Dia 20 de novembro, dia da morte de Zumbi dos Palmares, marca a celebração do “Dia da Consciência Negra”, dedicado às necessárias reflexões acerca do racismo estrutural que permeia nossa sociedade. Zumbi, um dos principais representantes da resistência negra à escravidão na época do Brasil Colonial e então líder do Quilombo dos Palmares, foi morto em 1695 por bandeirantes liderados por Domingos Jorge Velho.
Esse intróito, que pode parecer despropositado, tem um porquê. Apesar de a data ter sido instituída oficialmente no calendário nacional de 2011, apesar de haver tentativas institucionais de “celebrar” a data, uma grande resistência racista ainda pode ser presenciada e sentida nas persistentes celebrações ao algoz de Zumbi. A “Medalha Domingos Jorge Velho” segue sendo presenteada pelo malfadado “Instituto de Memórias Militares”, cuja pequenez não permite que tal notícia seja ampla. A estátua de Domingos Jorge Velho segue como visitado ponto turístico em Santana do Parnaíba. Há quem, de forma acrítica e negando a história, aponte o bandeirante como um grande defensor da segurança nacional, combatente de rebeldes, pacificador do nordeste. Um acinte que se repete cotidianamente na defesa acrítica das forças policiais.
Nós, enquanto estrutura social – órgãos governamentais, instituições, pessoas brancas – insistimos em homenagear as estruturas históricas que sustentaram e ainda sustentam o racismo em nosso país. Seguimos homenageando os algozes da população negra, tomando suas palavras e versões como verdadeiras. Há uma promoção da repressão, 365 dias por ano.
Nesse contexto, o Direito Penal insiste em propagar estas estruturas profundamente colonialistas e racistas: são milhares os exemplos de injustiças com fortes viés de raça, perpetrados pelo nosso sistema judiciário, com suporte das forças policiais e apoio da população.
Nesta data, a reflexão que proponho é a seguinte: qual o papel da advocacia criminal neste espaço de luta antirracista? Diversos temas vêm sendo pautados com foco no combate aos vieses de raça na justiça criminal, e alguns, em meu entendimento, merecem especial destaque.
O primeiro é o movimento que ganhou força no Superior Tribunal de Justiça com relação ao respeito dos procedimentos adequados ao reconhecimento de pessoas. Recente relatório, já destacado por Aury Lopes Jr, aponta que de 2012 a 2020 se decretou ao menos 90 prisões injustas por meio de reconhecimento fotográfico, das quais ao menos 81% eram pessoas negras, desconsideradas as 11 pessoas cuja informação sobre raça não constava dos processos. É urgente que reconheçamos a presença do racismo estrutural no reconhecimento de pessoas e que busquemos o respeito a forma da produção probatória como standard mínimo. E essa luta, que afasta as “nulidades à la carte”, para citar novamente Aury, é uma luta da advocacia antirracista.
O segundo movimento que merece grande destaque é a descriminalização do porte de drogas, recentemente paralizado no Supremo Tribunal Federal, que só é pauta neste texto por ser tema diretamente impactado pelo racismo estrutural: em um país sem standards para diferenciação entre quantia de drogas para uso próprio e para fins de traficância, a população preta e parda é que sofre – a cor da pele passa a ser o standard racista que separa traficantes de usuários. Daí as distorções ululantes que não nos deixam mentir: jovem branco portando 2,9 kg de cocaína é considerado usuário, enquanto uma jovem negra, por mim atendida no litoral paranaense em 2017, foi presa por tráfico portando 0,13 gramas da mesma droga. Neste último caso, estão presentes ainda as questões de gênero: o Ministério Público do Paraná a apontou como traficante por possuir relacionamento amoroso com “famoso suspeito de tráfico”. Não à toa, seguimos defendendo arduamente a descriminalização.
A Justiça Criminal coleciona tantos casos envolvendo questões evidentes de racismo estrutural que este curto texto jamais comportaria – mas que estão evidenciadas em diversos textos de produção acadêmica relevante de nossos colegas pesquisadores, em especial dos que detém local de fala. Seguimos enaltecendo o sistema que homenageia Domingos; seguimos fortalecendo o sistema que vitimou Zumbi.
Angela Davis nos ensina que “não basta não ser racista, é preciso ser antirracista”. Sejamos, então, exponentes da advocacia antirracista, lutando pelas pautas que aliviarão, ainda que pouco, as amarras do atual sistema.

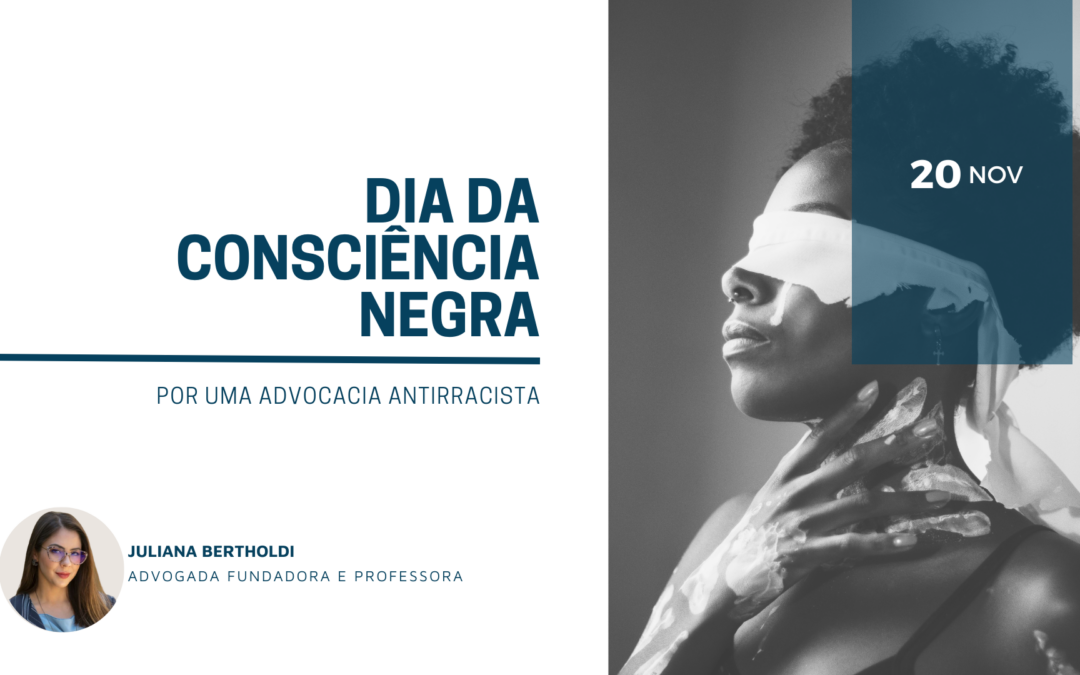

Comentários